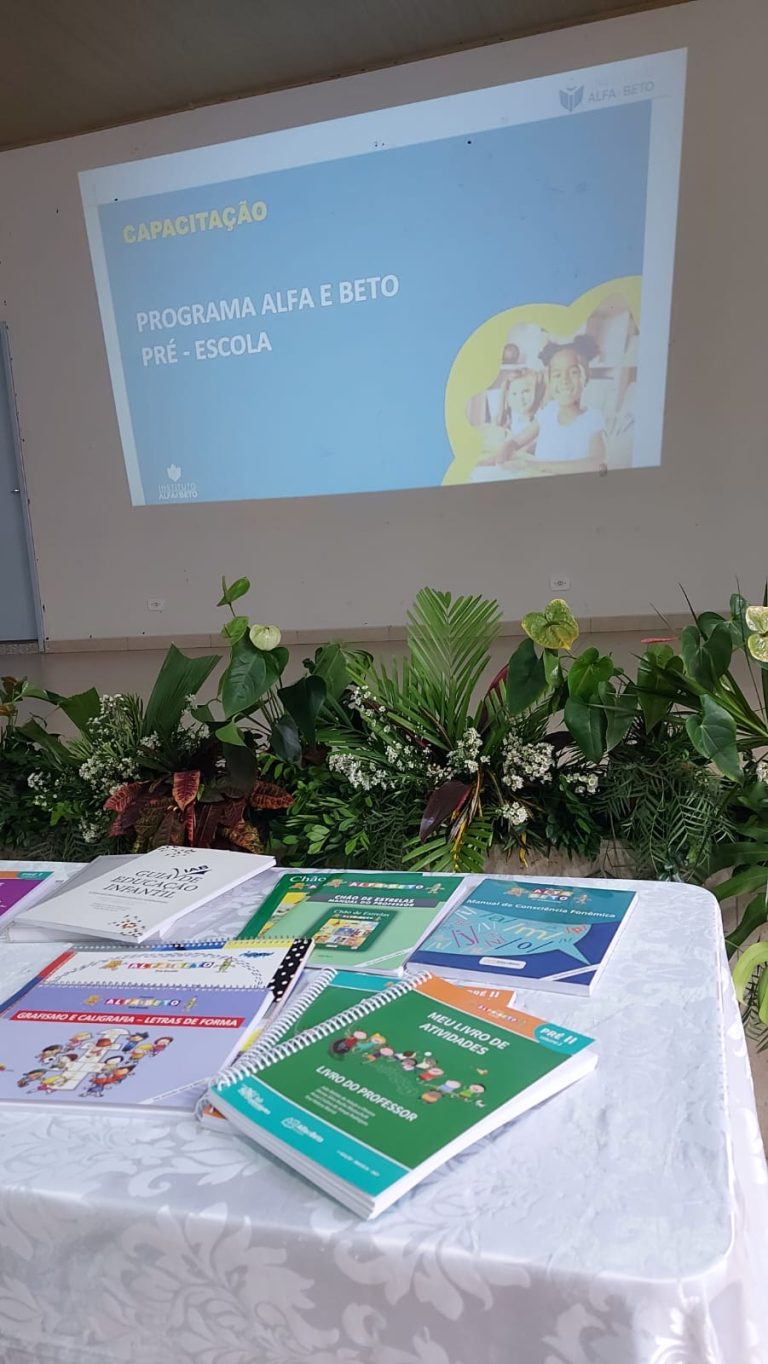| Este artigo inaugura uma série que debate em dez capítulos questões fundamentais para o avanço da educação no Brasil. As publicações acontecem em comemoração aos 10 anos de atuação do Instituto Alfa e Beto. Leia AQUI a série completa de artigos.
Junte-se a nós nesse debate. Deixe seu comentário abaixo. |
Produtividade, setor produtivo e educação | Por Maílson da Nóbrega
Primeiramente, a produtividade é considerada a principal fonte do crescimento econômico, já que permite a produção de mais com os mesmos recursos. Nos países desenvolvidos, a produtividade explica cerca de 80% da expansão do PIB. Como Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, afirmou, a produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Por isso, é fundamental entender como a produtividade impulsiona o crescimento e o desenvolvimento dos países.
Outras Fontes de Crescimento: Investimentos e Mão de Obra
Além disso, a segunda fonte de crescimento econômico está nos investimentos em máquinas, instalações, software e infraestrutura. Contudo, esses investimentos não terão grande impacto se não houver ganhos em produtividade. A queda da União Soviética, por exemplo, aconteceu em grande parte devido à falta de produtividade, apesar dos enormes investimentos em armamentos.
A terceira fonte de crescimento é a incorporação de mão de obra ao processo produtivo, o que pode aumentar o potencial de crescimento do PIB. No entanto, essa contribuição será maior quando a produtividade da mão de obra for mais elevada. Essa produtividade, por sua vez, depende da qualificação do trabalhador, da tecnologia e do ambiente de trabalho. Infelizmente, no Brasil, a produtividade da mão de obra é apenas 18% da produtividade do trabalhador americano.
O Capital Humano e a Educação como Fonte de Produtividade
A partir do pós-guerra, a teoria do capital humano, desenvolvida por economistas como Gary Becker, passou a explicar como a educação beneficia tanto os indivíduos quanto a sociedade. No entanto, outros economistas destacaram o papel da educação superior na formação do capital humano, essencial para aumentar a produtividade. A educação superior qualifica os profissionais para as funções técnicas, gerenciais e de pesquisa, fundamentais para a inovação.
No Brasil, no entanto, a educação foi negligenciada durante muitos anos. Durante os anos 1950, o país investia apenas 1,4% do PIB em educação, o que resultava em altos índices de analfabetismo e falta de mão de obra qualificada. Essa realidade impactava diretamente o desenvolvimento econômico.
A Prioridade da Educação nos Anos 1970
Na década de 1970, a educação passou a ganhar prioridade, especialmente no ensino superior. Contudo, a universalização do ensino fundamental, que já havia ocorrido em países desenvolvidos no século XIX e na Coreia do Sul nos anos 1960, só foi alcançada pelo Brasil na segunda metade dos anos 1990. Durante esse período, acreditava-se que a qualidade da educação dependia principalmente do aumento do gasto público.
A Expansão dos Gastos Públicos e a Falta de Melhoria na Qualidade
Nos anos 2000, os gastos com educação aumentaram significativamente, mas os resultados não foram proporcionais. A Constituição de 1988 estabeleceu que 18% dos impostos federais e 25% dos impostos estaduais e municipais fossem destinados à educação. No entanto, esse aumento nos gastos não resultou em melhorias significativas no desempenho educacional do país. O Brasil continua com baixas classificações nos testes internacionais, como o Pisa.
O Custo Brasil e a Qualidade da Educação
Além disso, o Brasil enfrenta o chamado “Custo Brasil”, que engloba altos impostos, legislação trabalhista ultrapassada, infraestrutura deficiente e, principalmente, a baixa qualidade da educação. Isso afeta diretamente a competitividade das empresas no mercado global, que precisam investir muito mais para qualificar sua mão de obra, em comparação com seus concorrentes internacionais.
A Necessidade de Reformas no Sistema Educacional
Portanto, está claro que é urgente que os empresários se mobilizem para pressionar o governo a realizar as reformas necessárias na educação. Apenas assim será possível garantir que o Brasil alcance uma melhoria significativa na produtividade e competitividade no mercado global. Entre as medidas essenciais estão: a eliminação de indicações políticas para cargos de direção nas escolas, o fim da gratuidade do ensino superior (exceto para estudantes talentosos de famílias de baixa renda) e a implementação de avaliação e remuneração dos professores com base no desempenho.
A Revolução Necessária na Educação
Em síntese, o Brasil não será capaz de aproveitar seu potencial de desenvolvimento sem uma revolução na educação. A melhoria na qualidade educacional é a chave para o crescimento econômico sustentável e para o desenvolvimento de longo prazo. Sem essa transformação, o país não conseguirá aproveitar as oportunidades de crescimento que o futuro oferece.
Saiba mais aqui.