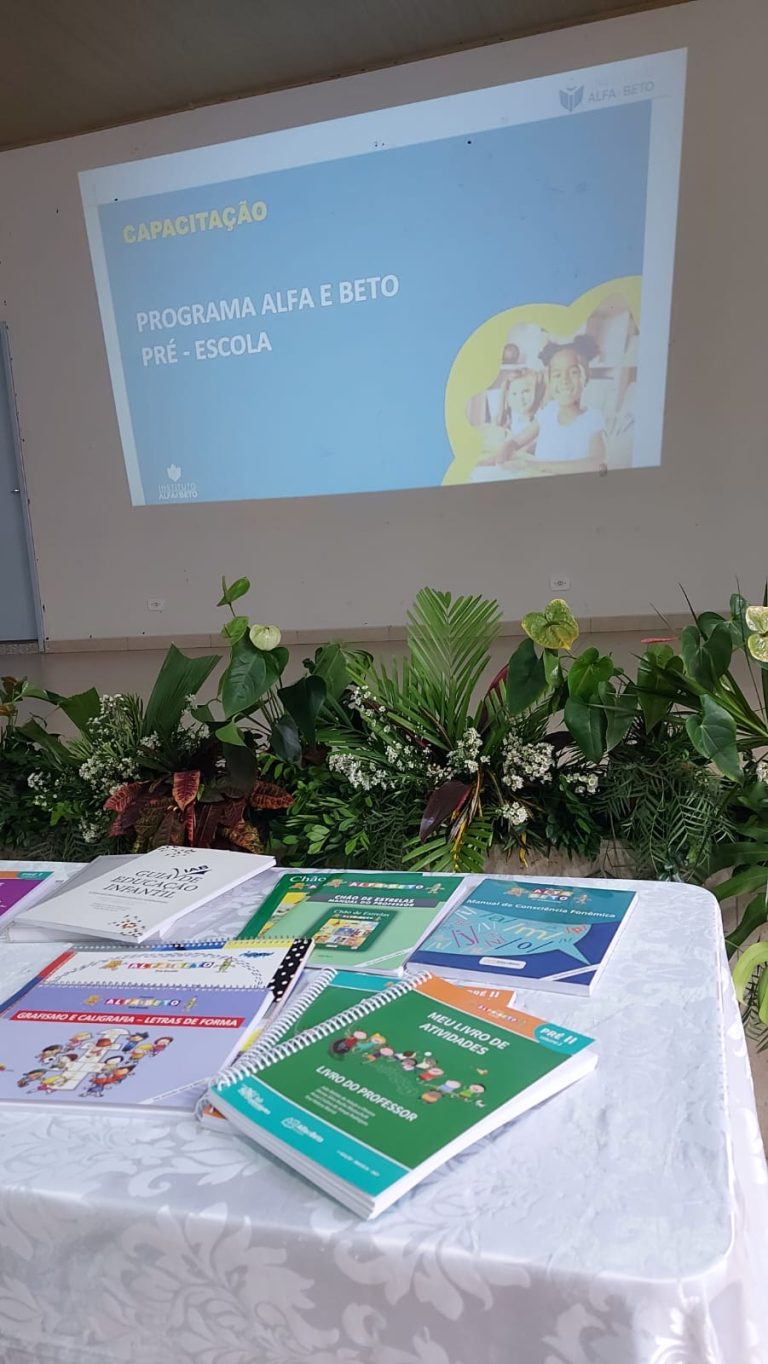Nota do Instituto Alfa e Beto:
Este artigo foi publicado originalmente no jornal Valor Econômico pelo presidente do Instituto Alfa e Beto
Se não houvesse obrigatoriedade de gastar 25% das receitas em educação, o que você, prefeito ou governador, faria? E você sindicalista? A pergunta é pertinente em tempo de ajuste fiscal e a questão tem até nome – orçamento de base zero.
O fato é que o discurso e as ações sobre educação vão na direção contrária à necessidade real de um ajuste fiscal acompanhado de reformas estruturais no gasto público. A partir da aprovação do Plano Nacional da Educação (PNE), o Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, alguns movimentos e ONGs, comandados por ilustres expoentes do empresariado nacional, empreendem o que parece ser uma corrida de 100 metros rasos para comprometer recursos de forma cada vez mais amarrada para o setor. Cada meta do PNE, que é regulamentada, cria amarras para o seu uso, garantindo desde já o aumento da ineficiência.
À exceção de alguns poucos economistas – e deste escriba -, ninguém parece incomodado com esse avanço sobre os recursos, o que cria dificuldades para as futuras gerações. Se já não há receita para fazer face aos compromissos atuais, como aumentar o nível do comprometimento financeiro? E o pior é que esses novos recursos do PIB para a educação em nada contribuirão para melhorar a qualidade do ensino. Não é sensato deixar como legado essa armadilha.
Tomemos um exemplo simples, disseminado ingenuamente (será?) pelo MEC no início de setembro, e tratado com a habitual falta de espírito crítico pela imprensa. O órgão alertou para a falta de professores de Ensino Médio e citou números, que alarmam apenas os desprevenidos.
Façamos a conta para entender a falácia. Hoje, são cerca de 507 mil professores para 9 milhões de alunos. Isso representa um professor para cada 17 alunos. Como o ensino no Brasil é em tempo parcial, temos um professor para cada 8,5 alunos, pois o profissional em tese pode ministrar aulas em dois turnos. Daqui a 25 anos, com a redução demográfica, teremos uma demanda para o Ensino Médio inferior a 6 milhões de alunos. Na base de um professor para cada 30 alunos teríamos a necessidade de 200 mil professores, em média, para as diferentes disciplinas. Ou 100 mil, se trabalhassem em turno dobrado. Faltam professores? Ou falta gestão eficiente de escolas, cargas horárias e flexibilidade para atrair pessoas com diferentes (e boas) formações para o magistério? Isso sem falar que parte expressiva dos alunos dessa etapa de ensino poderiam ter mestres de ofício como professores. Deu para entender?
Há um descalabro nos gastos da educação. E não se trata apenas de má gestão e roubalheira. A ineficiência é sobretudo consequência de políticas equivocadas, vinculações e amarrações de gastos e de legislação motivada exclusivamente por interesses corporativistas.
Um debate sério sobre a questão tanto pode começar pelo presente quanto pelo futuro. Se o horizonte é o futuro, é preciso avaliar que, com a redução dramática da população nos próximos 25 anos, o Brasil poderia gastar apenas 5% do PIB(inho) com educação básica e pagar o dobro do que atualmente paga a seus professores. Claro que isso supõe uma gestão eficiente. Isso sem falar na possibilidade um crescimento real do PIB(ão), que poderia tornar a massa de recursos ainda maior. Se isso é possível – e 25 anos estão ali atrás da curva – o que justificaria engessar 10% do PIB para o setor? Ou melhor, para grupos que irão se beneficiar disso?
Da ótica do presente, da forma projetada pelo PNE para gastar os 10% do PIB, a ineficiência atual irá aumentar e a qualidade do gasto e da educação dificilmente será afetada. Há várias razões para isso, mas uma basta: a maior parte dos recursos será usada com o atual plantel de professores, e não para atrair jovens promissores para o magistério. E não há nada – nas 20 metas do PNE e nos seus mais de 200 indicadores – que incentive a busca da eficiência. Pelo contrário.
O PNE é fruto de um sistema de governo e de cooptação dos grupos sociais que vem sendo operado com maestria, primeiro sob a capa de oposição, mais recentemente com as benesses de serem patrocinados do governo. A ideia de que é bom gastar mais com educação foi tomada como carro-chefe do movimento, e dificilmente pode ser contestada – sob pena de massacre imediato de quem a ela se opuser. Aceita a ideia, o resto é recheio e receita para dividir o butim. A oposição fingia que não sabia disso, durante a discussão da lei, e continua fingindo, mesmo diante da atual crise com que nos defrontamos. Tudo que se ouve é açodamento e pressa para “regulamentar e cumprir as metas do PNE”.
Até aqui um argumento invocado para não encetar o debate apresentado pelas lideranças sensíveis à voz da racionalidade era a dificuldade de discutir desvinculação de recursos para a educação sem falar em desvinculação em outras áreas do governo. Governos municipais e estaduais – até muito recentemente – continuavam acreditando que o governo federal viria em seu socorro na hora do aperto. No máximo há movimentos – como os da Confederação Nacional dos Municípios – para vincular aumento de encargos aos municípios ao compromisso de apoio financeiro da viúva. E o diligente Ministro Levy parece acreditar que o açodamento legiferativo é passatempo inconsequente dos congressistas.
A festa acabou, antes de começar. Este governo, com sua forma de governar, não tem particular apreço pelo confronto de ideias. O aparelhamento que tomou conta do Estado – e também em grande parte das universidades – não deixa espaço para uma conversa séria a respeito de nada. A imprensa se divide entre os comentaristas econômicos e os colunistas políticos, ignorando o impacto de políticas setoriais como as da educação, saúde e previdência. Resta esperar que os empresários, supostamente interessados numa economia estável e recursos humanos qualificados, deem guarida a debate profundo sobre a importante questão.